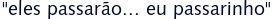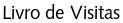(...)
Sobre organizar e ser organizado, por Zygmunt Bauman — posfácio de A arte da vida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros para Jorge Zahar Editor Ltda. Portanto somos todos artistas de nossas vidas — conscientemente ou não, de boa vontade ou não, gostemos ou não. Ser artistas significa dar forma e condição àquilo que de outro modo seria sem forma ou aparência. Manipular probabilidades. Impor uma “ordem” no que, de outro jeito, seria o “caos”: “organizar uma coleção de coisas e eventos que, não fosse isso, seria caótica — aleatória, fortuita e imprevisível —, tornando a ocorrência de alguns desses eventos mais provável que a de todos os outros. “Organizar” (ou “administrar”: as duas expressões são irmãs siamesas) significa conseguir que as coisas sejam feitas juntando e coordenando vários atores e recursos que de outro modo estariam separados (pressuposto tácito: de outro modo, esse convívio e cooperação não aconteceriam). Para expressar o que está envolvido nisso, frequentemente falamos da necessidade de “organizar as coisas” ou mesmo de “me organizar” (caso em que nos referimos à qualidade artística da vida) — e algumas vezes explicamos, embora sempre presumamos que isso é precisamente o que devemos fazer se quisermos que “as coisas sejam feitas”. A quem deveríamos perguntar qual a melhor maneira de ir em frente e organizar as coisas (incluindo nós mesmos) senão aos profissionais, ou seja, pessoas responsáveis por entidades chamadas “organizações”? Afinal de contas, presume-se que eles sejam especializados em assegurar que as coisas sejam feitas — dia após dia, infalivelmente — e de maneira adequada (leia-se: tal como se pretendia). É isso que eles têm feito e pretendem fazer durante todo o seu tempo no serviço. Até recentemente, como testemunha o Oxford English Dictionary, estavam ocupados em “dar (a alguma coisa) uma estrutura definida e ordenada” (pressuposto tácito: de outro modo, essa “alguma coisa” permaneceria disforme e desordenada). Definida e ordenada... Desde quando entrou e se estabeleceu no vernáculo, e até muito recentemente, o conceito de “organização” costumava nos fazer pensar gráficos e diagramas, linhas de comando, departamentos, agendas, manuais de regras; na vitória da ordem (ou seja, de um estado no qual se faz com que alguns eventos sejam mais prováveis que outros) sobre o caos (ou seja, sobre um estado em que qualquer coisa pode acontecer com igual ou incalculável probabilidade); nos “quatro C” — continuidade, constância, consistência e coerência; na primazia da estrutura sobre o estruturado, do arcabouço sobre os conteúdos, da totalidade sobre os indivíduos, dos objetos administrativos sobre a conduta do administrado. Eu disse “até muito recentemente” porque hoje, ao entrarmos nas sedes das organizações, sentimos o sopro dos ventos da mudança. Alguns anos atrás, Joseph Pine e James H. Gilmore publicaram um livro intitulado The Experience Economy [A economia da experiência], título que — sem dúvida ajudado por suas credenciais da Harvard Business School — instantaneamente inflamou a imaginação de estudantes de administração e comércio, preparando a reapresentação da atual mentalidade de diretores e presidentes de empresas como o novo paradigma dos estudos organizacionais. Num volume com estudos fascinantes publicado pela Copenhagen Business School Press, os organizadores Daniel Hjorth e Monika Kostera traçaram um vasto e rico plano do itinerário que leva do antigo paradigma organizacional centrado no “gerenciamento” e priorizando o controle e a eficiência para o paradigma emergente focalizado no empreendedorismo e enfatizando “as características mais vitais da experiência: proximidade, jovialidade, subjetividade e perfomatividade”. Monika Kostera caracterizou o “gerencialismo” (agora ultrapassado ou em rápido, embora ocasionalmente ressentido e relutante, recesso) como algo que “vive do poder e acumula mais e mais dele”. O gerencialismo afastou o poder primeiro dos trabalhadores e empregados de escritório, e depois, escalando gradualmente os níveis de autoridade, até dos funcionários dos escalões administrativos mais elevados. “As fábricas se transformaram em máquinas gigantes... em que os trabalhadores eram vistos como meros acréscimos falíveis à cadeia de transmissão. Os escritórios logo seguiram o mesmo rumo...” No caminho do gerencialismo para a “economia da experiência”, nasceram, porém, novos tipos de organizações, “empresariais, descaradamente ecléticas, não-lineares e por vezes gritantemente ilógicas. São constituídas via proximidade, subjetividade, jovialidade e performatividade”. E assim, ao que parece, chegou o momento de dar adeus à constância, à consistência e à coerência. Quanto à continuidade, ela pode aparecer, se for o caso, entre os resultados, porém não mais nos planos, nos propósitos e motivos declarados; e quando (se) aparecer, não será necessariamente relembrada pelos chefes (ou pelos corretores de valores!) na coluna dos créditos da organização... Quanto às prováveis consequências sociais e pessoais dessas transformações radicais em andamento, o julgamento prossegue e o júri está longe de chegar a um veredicto unânime. Alguns observadores podem descrever (e descrevem!) a reforma drástica das organizações como um poderoso passo no rumo da emancipação e habilitação dos trabalhadores, enquanto outros a descrevem como um movimento na direção de um controle e um enredamento ainda mais estrito, tanto de subordinados quanto de chefes, numa rede de dependências geradas no trabalho. Alguns falam de outro ganho notável em matéria de liberdade, outros de uma nova dominação, mais voraz, impiedosa e ubíqua; alguns, de um maligno recuo na direção de uma organização e uma rotina desumanizantes, outros da invasão e conquista dos poucos espaços de autonomia e privacidade remanescentes; alguns da iminente restauração e implantação dos direitos dos empregados à auto-administração e à auto-afirmação, outros de mais um avanço na expropriação de suas qualidades, recursos e preocupações pessoais e privadas. Todas essas caracterizações desse processo, profundamente contraditórias e aparentemente incompatíveis, parecem genuínas, ao menos em parte. Cada uma delas pode reunir evidências suficientes em seu favor para resistir ao descarte. O advento da “economia da experiência” é de fato ambíguo em suas consequências. E sua ambiguidade foge teimosamente de uma solução. Afinal, uma das principais causas da impressão de ostensiva inevitabilidade da passagem da economia “gerencial” para a economia da “experiência” parece ser a invalidação parcial de todas as avaliações decisivas, em função do progressivo obscurecimento, abrandamento ou eliminação das fronteiras que um dia separaram nitidamente as esfrias da vida e as áreas de valor auto-sustentadas e autônomas: o local de trabalho e o lar, o tempo de trabalho e o tempo livre, o trabalho e o lazer e, de fato, os negócios e a família (separar-se dela foi memoravelmente proclamado por Max Weber como o ato fundador da modernidade e sua declaração de guerra a tudo que fosse irrelevante para os objetivos da organização e incapaz de ser subordinado à sua lógica impessoal). Na era dos celulares, laptops e palmtops, não há desculpa para se estar temporariamente fora de alcance, seja do local de trabalho ou da família — dos deveres do trabalho ou das obrigações familiares. Estar constantemente à disposição de sócios e chefes, assim como de amigos e membros da família, torna-se não apenas uma possibilidade, mas um dever e também um impulso interior. O lar de um inglês talvez ainda seja seu castelo, mas suas muralhas são porosas e não têm isolamento acústico. Muitas vezes trabalhando em casa e se divertindo no trabalho, os ingleses podem ser perdoados por não terem mais muita certeza sobre que lugar é o hábitat natural do quê; sobre o que esperar, onde e quando; e onde (se é que em algum lugar e quando (se é que algum dia) concluir que essas expectativas foram frustradas. Um punhado de funções até aqui consideradas totalmente pertencentes ao domínio do local de trabalho (administrado), agora foram ”terceirizadas” a “colaboradores” e portanto substituídas por relações do tipo mercado (“se não estiver totalmente satisfeito, leve a mercadoria de volta para a loja”), ou “subcontratadas” para cada empregado individualmente, passando assim a responsabilidade pelo desempenho, e a obrigação de aguentar suas consequências, dos chefes para os empregados. O emblema da dominação genuína é hoje em dia a facilidade com que o desempenho de tarefas gerenciais ortodoxas é evitado, tendo sido transferido lateralmente ou para baixo na hierarquia. Amplas áreas dos eus ou personalidades das pessoas empregadas (direta ou indiretamente) — áreas até então ignoradas nos pacotes obtidos pelos empregadores ao “comprar trabalho” — agora são abertas à exploração quando seus empregados “empoderados” se tornam auto-administrados. Confia-se que empregados auto-administrados utilizem partes de si mesmos que estavam fora do alcance dos chefes nos contratos de trabalho tradicionais — agregando recursos que seus gerentes não podiam agregar. Também se espera dos novos empregados “empoderados” (chamados ou não de “subempreiteiros”) que não contem as horas gastas a serviço da companhia empregadora e que controlem e neutralizem as partes de si mesmos que sejam potencialmente contraproducentes ou problemáticas, ou pelo menos difíceis de controlar e imobilizar, caso submetidas ao poder e à responsabilidade direta de seus gerentes. O hábitat natural e as estufas da “subjetividade” ou «jovialidade” em que o novo tipo de organização assenta suas esperanças eram previamente localizados nos lares, nas redes de amizade e nas vizinhanças: os mesmos locais que a nova voracidade das organizações por tempo, energia e emoções de seus empregados — juntamente com a demanda por uma “dedicação apaixonada” provocada por um estado artificialmente encorajado de alerta e emergência — tende a marginalizar, debilitar e desvalorizar. Em vez de colher safras desenvolvidas independentemente e tornadas “prontas para a colheita” nos locais tradicionais, as organizações agora precisam assumir as tarefas de plantio e cultivo laborioso das qualidades que pretendem mobilizar a fim de aumentar a “performatividade” de seus membros. O resultado pode muito bem ser o contrário do pretendido. A intenção era ajustar as organizações às condições de um ambiente liquido, em rápida mudança, tornando-as “mais leves”. Mas, para enfrentar os novos desafios, elas podem se tornar, ao contrário, ainda “mais pesada”. Num mundo em processo de renovação constante, podem precisar, tal como as bruxas envelhecendo nos contos de fada, de quantidades cada vez maiores de sangue virgem (na versão atualizada das tomadas de controle — amigáveis ou não, mas sempre impostas — eufemisticamente apelidadas de “fusões”, e da subsequente venda de ativos não-utilizados no negócio principal da empresa). Seu progresso pode assumir feições bulímicas: períodos de gula intercalados por espasmos de vômito e acessos de lipoaspiração, temporadas frenéticas com os vigilantes do peso e pausas de fim de semana em spas. O balanço exato de custos e efeitos está por ser calculado, mas parece que o aumento dos custos relacionados ao atendimento das novas necessidades pode muito bem ser maior que as economias obtidas com a terceirização e subcontratação de algumas funções desempenhadas por seus antecessores do velho estilo. Niels Åkerstrøm, professor da Copenhagen Business School, compara a atual situação do empregado de uma organização à do cônjuge num casamento contemporâneo ou de um casal vivendo junto. Em ambos os casos, um estado de emergência (um estado que exige a mobilização de todos os recursos, tanto racionais quanto emocionais) tende a ser a norma, não a exceção. Em ambos os casos, a pessoa “está sempre em dúvida sobre o quanto é amada ou não... Anseia-se por confirmação e reconhecimento da mesma forma que ocorre no casamento... [A] questão de ser ou não parte de alguma coisa orienta o comportamento do empregado como individuo.” “O código do amor”, acredita Åkerstrøm, orienta a estratégia do “novo tipo” de organização. E assim não há um contrato de trabalho por escrito (tal como não há um acordo verbal de coabitação entre os amantes) que seja estabelecido para sempre, “para o bem ou para o mal” e “até que a morte nos separe”. Os parceiros são mantidos perpetuamente in statu nascendi, incertos quanto ao futuro, precisando constantemente provar de modo cada vez mais convincente que “ganharam” e “merecem” a simpatia e lealdade do chefe ou parceiro. “Ser amado” nunca é “suficientemente” obtido e confirmado, continua sendo eternamente condicional — a condição sendo um suprimento constante de evidências sempre renovadas da capacidade de realizar, ter sucesso, estar sempre “um passo à frente” dos atuais ou potenciais competidores. O trabalho nunca acaba, tal como as estipulações de amor e reconhecimento nunca são totais e incondicionais. Não há tempo para deitar sobre os louros: estes, como se sabe, murcham e definham com o tempo, os êxitos tendem a ser esquecidos um instante depois de terem sido obtidos, a vida numa empresa é uma infinita sucessão de emergências... É uma vida excitante e exaustiva: excitante para os aventureiros, exaustiva para os fracos de espírito. Por fim, mas não menos importante, a lógica da versão individualista da “habilitação” promovida pela “economia da experiência” torna a cooperação, o comprometimento mútuo e a solidariedade entre colegas de trabalho não apenas redundantes, mas simplesmente contraproducentes. Pouco se pode ganhar, embora se possa perder muito, quando se assume uma postura de solidariedade e, como resultado, reforçam-se os vínculos emocionais e a dedicação mútua. Todos os aspectos da situação (para designar apenas alguns, segundo a lista organizada por Vincent de Gaulejac: a individualização dos salários, a dispersão das reivindicações comuns, o abandono dos acordos coletivos e o enfraquecimento das “solidariedades específicas”) parecem militar contra a solidariedade comunal. Agora é cada um por si, com os gerentes recolhendo os ganhos de “produtividade” derivados daquilo que equivale a meter o “t” de solitário no lugar do “d” de solidário... A observação de Niels Åkerstrøm sobre a tendência de reformar as organizações segundo um padrão semelhante ao das relações amorosas deveria ter nos remetido a uma transformação ainda mais ampla, que provavelmente está nos alicerces da “mudança de paradigma”: a profunda transformação no papel desempenhado pelos vínculos humanos, particularmente pelas relações amorosas, e de modo mais generalizado pela amizade, no ambiente líquido-moderno. Em todas as avaliações, sua atração está alcançando atualmente um nível sem precedentes, mas em proporção inversa à sua capacidade de desempenhar o papel que se desejava e esperava que desempenhasse — o papel que era e continua sendo a causa principal de sua atração... É precisamente porque estamos dispostos “a constituir amizades e companheirismos profundos”, e ansiamos por isso de modo mais vigoroso e intenso do que nunca, que nossos relacionamentos são cheios de som e fúria, repletos de ansiedade e estados de alerta perpétuo. Estamos dispostos a isso, já que os vínculos de amizade são (nas felizes e memoráveis palavras de Ray PahI) nossa única “escolta [social] em meio às águas turbulentas” do mundo líquido-moderno. Precisamos de uma escolta para enfrentar essas “águas turbulentas”: os locais de trabalho instáveis e frágeis saturados e envenenados pela suspeita mútua e com muita frequência retalhados pela competição feroz; nossas vizinhanças sob ameaça constante dos construtores; estradas abundantes que são, não obstante, incertas e carentes de sinalização do caminho para uma vida decente e também para o sucesso, aparecendo e desaparecendo sem advertência; perigos à segurança de nossos corpos e posses muito vagos para apontar, que dirá combater; pressões constantes para mostrarmos nossa coragem e “provarmos nosso valor”, com pouca ajuda para reunir os recursos que esse feito exigiria; recomendações de estilos de vida que mudam tanto e tão rapidamente que não se pode acompanhá-las de modo a afastar a ameaça de ficar para trás ou simplesmente ser empurrado da pista. A mão amiga de um parceiro leal, confiável, “até que a morte nos separe”, a mão que se pode contar que será estendida prontamente e de boa vontade quando for necessário — o que ilhas oferecem a náufragos potenciais ou oásis a pessoas perdidas no deserto —, precisamos dessas mãos, e queremos tê-las — quanto mais delas em torno de nós, melhor... Entretanto... Entretanto! Em nosso ambiente líquido-moderno, a lealdade por toda a vida é uma bênção misturada com muitas maldições. E se as ondas mudarem de direção, e se acenarem com novas oportunidades que vão transformar em dívidas os ativos seguros de ontem, em lastros repelentes as propriedades que valorizamos, em contrapesos as bóias salva-vidas? E se o próximo e querido não for mais querido, mas continuar perturbadoramente próximo? Daí a ansiedade: o medo de perder amigos ou parceiros misturado com o medo de ser incapaz de se livrar dos que não são mais desejados — encimados pelo medo de se encontrar na extremidade receptora do ímpeto e determinação do amigo ou parceiro: “Preciso de mais espaço.” A “rede” de relações humanas (rede: o jogo interminável da conexão e desconexão) é hoje o centro da mais angustiante ambivalência. O que confronta os artistas da vida com uma série de dilemas que causam mais confusão do que oferecem sugestões... “Onde fica a fronteira entre o direito à felicidade pessoal e a um novo amor, por um lado, e o egoísmo inconsequente que desintegraria a família e talvez prejudicasse os filhos, de outro?”, pergunta lvan Klima. Traçar essa fronteira com precisão pode ser uma tarefa torturante, mas de uma coisa podemos ter certeza: onde quer que se encontre, ela é violada no momento em que se declara que atar e desatar os vínculos são atos neutros, moralmente indiferentes, de modo que os atores são a priori eximidos da responsabilidade pelas consequências recíprocas de seus atos: daquela mesmíssima responsabilidade incondicional que o amor promete, para o que der e vier, e luta para construir e preservar. “A criação de uma relação mútua que seja boa e duradoura”, em total oposição à busca do prazer por meio de objetos de consumo, “exige um esforço enorme”. Mas o amor, sugere Klima, deve ser comparado à criação de uma obra de arte... Isso também requer imaginação, concentração total, a combinação de todos os aspectos da personalidade humana, auto-sacrifício da parte do artista e liberdade absoluta. Mas acima de tudo, como ocorre com a criação artística, o amor exige ação, ou seja, atividade e comportamento não-rotineiros, assim como atenção constante à natureza intrínseca do parceiro, um esforço para compreender sua individualidade, além de respeito. E por último, mas não menos importante, precisa de tolerância, da consciência de que não se deve impor ao companheiro suas perspectivas ou ideais nem ser um obstáculo à felicidade do outro. O amor, devemos concluir, se abstém de prometer um caminho fácil para a felicidade e o sentido. O “relacionamento puro” inspirado pelas práticas consumistas promete esse tipo de vida fácil, mas, pela mesma razão, torna a felicidade e o sentido reféns do destino. Para resumir: o amor não é algo que se possa encontrar; não é um obet trouvé nem um “ready-made”. É algo que precisa ser sempre e novamente construído e reformado a cada dia, a cada hora; constantemente ressuscitado, reafirmado, servido e cuidado. Em conformidade com a crescente fragilidade dos vínculos humanos, a impopularidade dos compromissos de longo prazo, a tendência a se despojar os “deveres” dos “direitos” e evitar quaisquer obrigações a não ser as “obrigações a si mesmo” (“devo isso a mim mesmo”, “mereço isso” etc.), o amor tende a ser visto ou como perfeito desde o início ou como fracassado — a ser abandonado e substituído por um espécime “novo e aperfeiçoado”, ao que se espera genuinamente perfeito. Não se espera que esse amor sobreviva à menor discussão, que dirá à primeira discordância e confronto sérios... A felicidade, para relembrar o diagnóstico de Kant, é um ideal não da razão, mas da imaginação. Ele também advertiu que, com o caráter tortuoso da humanidade, nada de reto poderia ser feito. John Stuart Mill pareceu combinar as duas sabedorias em sua advertência: quando você pergunta a si mesmo se é feliz, você deixa de sê-lo... Os antigos provavelmente suspeitavam disso, porém, guiados pelo princípio dum spiro, spero (enquanto respiro, tenho esperança), sugeriam que, sem trabalho duro, a vida não ofereceria nada que a tornasse valiosa. Dois milênios depois, a sugestão não parece ter perdido a atualidade. Zygmunt Bauman
Enviado por Germino da Terra em 09/07/2013
Copyright © 2013. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras