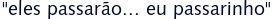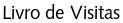O romancista e suas personagens1 (II), por François Mauriac. Apêndice do romance Thérèse Desqueyroux no volume da Cosac & Naify Edições (tradução de Samuel Titan Jr.)
(...) Quantas vezes me aconteceu de descobrir, enquanto compunha uma narrativa, que tal personagem de primeiro plano, na qual pensava há tempos, cuja evolução eu fixara até os mínimos detalhes, só se conformava bem ao programa porque estava morta: obedecia, mas como cadáver. Ao contrário, tal outra personagem secundária, à qual eu não dava grande importância, avançava por si só ao primeiro plano, ocupava um lugar ao qual eu não a tinha chamado, arrastava-me numa direção inesperada. Foi assim que, em Le Désert de l’amour, o doutor Corrège não devia ser, segundo meu plano, mais que uma personagem episódica, o pai do herói principal. Mas ele acabou por invadir o romance inteiro; quando penso nesse livro, a figura sofredora desse pobre homem domina todas as outras e sobrenada quase sozinha por essas páginas esquecidas. Em suma, diante de minhas personagens, sou como um mestre-escola severo, mas que sofre como ninguém por ter uma secreta preferência pelo mau elemento, pelo caráter violento, pelas naturezas teimosas, e por não preterir, em seu íntimo, as crianças ajuizadas demais e que não lhe respondem. Quanto mais vivas nossas personagens são, menos elas se submetem a nós. Mas certos romancistas têm o azar de que sua inspiração, seu dom criador provenha da parte menos nobre, menos purificada de seu ser, de tudo o que subsiste neles a despeito deles mesmos, de tudo aquilo que passam a vida a varrer do campo de sua consciência, daquela miséria que fazia Joseph de Maistre dizer: “Não sei o que é a consciência de um canalha, mas conheço a de um homem respeitável, e é horrível”. Pois parece ser nessas trevas que alguns romancistas, para seu infortúnio, veem suas personagens tomarem corpo. E, quando uma leitora escandalizada lhe pergunta: “Mas onde foram buscar esses horrores?”, os infelizes são obrigados a responder: “Em mim mesmo, senhora”. Ainda assim, seria incorreto pretender que são criaturas feitas a nossa imagem, uma vez que são feitas do que rejeitamos, do que não acolhemos, uma vez que representam nossos desejos. Para o romancista que cria seres dessa espécie, há um prazer maravilhoso em lutar contra eles. Como essas personagens costumam resistir e se defender asperamente, o romancista, sem risco de deformá-las ou torná-las menos vivas, pode chegar a transformá-las, pode insuflar-lhes uma alma ou, antes, obrigá-las a descobrir sua própria alma, pode salvá-las sem por isso destruí-las. Ao menos foi isso o que me esforcei por lograr em Le Noeud de vipères, por exemplo. Diziam-me: ‘‘Retrate personagens virtuosas!’’. Mas eu quase sempre erro a mão com minhas personagens virtuosas. Diziam-me: “Trate de elevar um pouco seu nível moral!”. Quanto mais eu me esforçava, mais as minhas personagens se recusavam obstinadamente a qualquer espécie de grandeza. Porém, quando se estudam seres em seu momento mais baixo e na maior das misérias, pode ser bonito obrigá-los a levantar um pouco a cabeça. Pode ser bonito tomar suas mãos tateantes, atraí-los, obrigá-los a soltar o mesmo gemido que Pascal queria arrancar ao homem miserável e sem Deus — e isso não de modo artificial, nem para fins de edificação, mas por que, dado o que uma criatura tem de pior, fica por recuperar a chama primitiva que não pode deixar de existir nela. Le Noeud de vipères é, aparentemente, um drama de família, mas no fundo é a história de uma redenção. Esforço-me por subir o curso de um destino lamacento e chegar à fonte ainda pura. O livro termina quando restituo a meu herói, a esse filho das trevas, seu direito à luz, ao amor e, numa palavra, a Deus. Os críticos muitas vezes julgaram que eu perseguia meus heróis com certo sadismo, que eu os denegria por ódio a eles. Se dei essa impressão, a fraqueza, a impotência de meus meios é a única responsável. Pois a verdade é que amo minhas personagens mais tristes e que as amo tão mais quanto mais miseráveis são, assim como a preferência de uma mãe recai instintivamente sobre a criança mais desvalida. O herói de Le Noeud dc vipères ou a envenenadora Thérèse Desqueyroux, por horríveis que pareçam, são desprovidos da coisa que mais odeio neste mundo e que mal consigo suportar numa criatura humana, a complacência e a satisfação consigo mesmo. Não estão contentes consigo mesmos, conhecem sua miséria. Ao ler o admirável Saint Saturnin, de Jean Schlumherger, tive o desgosto de sentir, ao longo da narrativa, uma antipatia incontornável diante das personagens mais dignas de serem amadas, sem que eu compreendesse a razão disso. Mas tudo esclareceu para mim quando, nas últimas páginas do livro, o herói mais simpático exclamou: “Consinto em não desprezar demais os ociosos, contanto que possa manter a estima que tenho por mim”. É evidente que, se o tivesse concebido, eu não largaria essa personagem antes de obrigá-la a não mais se estimar e a não desprezar ninguém mais do que a si mesmo. Não descansaria enquanto não o tivesse encurralado até a derrota definitiva, depois da qual um homem, por miserável que seja, pode começar o aprendizado da santidade. Está escrito no salmo li que “Sacrifício a Deus é um espírito contrito, o coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas”. Chega um momento na vida do romancista em que, após se ter batido a cada ano contra novas personagens, ele acaba por descobrir que muitas vezes se trata de uma mesma, que reaparece de livro em livro. Os críticos costumam se dar conta antes dele. E o momento mais perigoso de sua carreira talvez seja esse em que o acusam de se repetir, em que insinuam com mais ou menos rodeios que é hora de se renovar. Acredito que um romancista não deve se deixar impressionar além da conta por essa intimação. O que distingue os romancistas mais poderosos é evidentemente o número de tipos que inventam; mas também eles, seja Balzac, Tolstói, Dostoiévski ou Dickens, produzem menos personagens que romances: quero dizer que, de um livro para outro, é possível seguir os mesmos tipos humanos. Tomem o idiota de Dostoiévski — estou pronto a descobrir seu semelhante, seu irmão, em cada uma das obras do grande romancista. E, para tomar um outro exemplo, tirado de um animal infinitamente menor, lembro que, sem que eu quisesse, o herói de Le Noeud de vipères recorda traço por traço o de Genitrix. Isso quer dizer que me repeti? Ouso dizer que não. Talvez seja a mesma personagem, mas posta em condições de vida bem diferentes. Em Genitrix, eu o confrontei a uma mãe apaixonada; em Le Noeud de vipères, imaginei-o como esposo, pai de família, ancião, chefe de uma tribo. Longe de acusar o romancista de se repetir, e em vez de forçá-lo à renovação com procedimentos artificiais e mudando arbitrariamente de maneira, considero que mais vale admirar esse poder de criar seres capazes de passar de um destino a outro, de um romance a outro, e que podem, superiores que são às criaturas vivas, recomeçar suas vidas sob novas condições. Esse homem cujo tipo me obseda e que renasce continuamente, mesmo quando o mato ao fim de um livro, por que recusar-lhe o que está a meu alcance conceder: uma outra existência, e ainda filhos e netos, caso não os tivesse? Dou-lhe uma nova chance. Não que isso seja grande coisa. Mas para os heróis de romance, aliás como para cada um de nós, há tantas maneiras de ser infelizes e de causar sofrimento aos outros! Nem mesmo vários livros bastariam para descrevê-las. Quando me concitam a me renovar, digo aos meus botões que o essencial é renovar em profundidade; é possível cavar mais fundo sem trocar de lugar. Quando se reclama que o herói de Le Noeud de vipères, apesar das circunstâncias diferentes, é parecido demais ao de Genitrix, essa crítica não me perturba, pois estou seguro de que, no romance mais recente, avancei no conhecimento desse homem e penetrei ainda mais profundamente nele. Trouxe à luz uma camada ainda mais recôndita de seu ser. Evidentemente, essa é uma tentação que todos nós conhecemos: publicar um livro que não se pareça em nada ao que fizemos até então. Por vezes, perguntei-me se seria capaz de escrever um romance policial, um folhetim, com o único fito de distrair o leitor e prender-lhe a respiração. Talvez o tivesse, mas como um castigo escolar, e o resultado seria muito menos consumado que as obras dos especialistas habituados a esse trabalho. “Você não fala nunca do povo’’, objetam os populistas. Por quê condenar-me à descrição de um ambiente que conheço tão mal? Na verdade, importa bem pouco se colocamos em cena uma duquesa, uma burguesa ou uma verdureira ambulante: o essencial é alcançar a verdade humana, e Proust atinge tanto por meio dos Guermantes como dos Verdurin; descobre-a tão bem no sr. de Charlus como na criada Françoise, nativa de Combray. O humano que se deve alcançar, essa camada subterrânea aflora tanto a superfície de uma vida mundana como de uma vida mísera. Cada qual escava o lugar onde nasceu, onde viveu. Não há romancistas mundanos e romancistas populistas, há bons romancistas e maus romancistas. Assim sendo, que cada um de nós explore seu campo, por menor que seja, sem procurar evadir-se exceto quando o coração ditar, e repitamo-nos, como aquele sujeito de La Fontaine, que o esforço nunca é demais. Confessemos, entretanto, que às vezes o romancista sofre ao descobrir que, afinal de contas, está sempre a tentar escrever o mesmo livro e que todos aqueles que já compôs são apenas os esboços de uma obra que ele se esforça por realizar, sem jamais alcançá-la. Para ele, o que se impõe não é a renovação, e sim a paciência para recomeçar indefinidamente, até o dia em que talvez tenha a esperança de alcançar aquilo que se obstinava em perseguir desde sua estreia. Os homens de letras são vaidosos, mas têm bem menos orgulho do que se pensa. Sei de vários romancistas que, indagados sobre qual de seus livros preferem, não sabem o que responder, tanto suas obras já publicadas parecem-lhes indicações mais ou menos interessantes, provas frustradas, esboços abandonados da obra-prima desconhecida que talvez jamais escrevam. Por trás do romance mais objetivo — supondo que se trate de uma bela obra, de uma grande obra — sempre se dissimula o drama pessoal do romancista, a luta individual com seus demônios e suas esfinges. Mas talvez o sucesso do gênio consista precisamente em que nada desse drama pessoal se traia no exterior. A famosa tirada de Flaubert — “A sra. Bovary sou eu mesmo” — é bem compreensível, basta que se reflita um pouco, por mais que, a primeira vista, o autor de um tal livro mal pareça misturar-se a ele. Acontece que Madame Bovary é uma obra-prima, isto é, uma obra que forma um bloco e que se impõe como um todo, como um mundo separado daquele que o criou. É apenas na medida em que obra é imperfeita que, pelas fissuras, transparece a alma atormentada de seu miserável autor. Ainda assim, mais valem esses semi-sucessos, nos quais o gênio ainda não pôde obter a síntese do autor e de sua obra, do que as obras construídas de fora e a força da destreza de um escritor sem alma ou de um escritor que se recusa a se entregar, que não ousa ou que não pode se dar por inteiro a sua obra. Quantas vezes, ao ler certos livros ou seguir o desenvolvimento de uma obra, não gostaríamos de gritar ao autor: “Abandone-se, sacrifique-se, não calcule, não se poupe, não pense nem no público, nem no dinheiro, nem na fama!”. Quando a obra nasce de um enfermo, como foi o caso com Flaubert e com Prost, ela se liga à doença e a volta para seus próprios fins. Pascal dizia da doença que ela é o estado natural do cristão: seria possível dizer o mesmo — e com muito mais justiça — do romancista. A epilepsia de Flaubert, a asma de Proust, isolam-nos do mundo, enclausuram-nos, mantêm-nos prisioneiros entre a mesa e a cama. Mas enquanto o primeiro procura uma escapatória nos livros, Prost sabe que todo um mundo está encerrado em seu quarto: sabe que, entre essas quatro paredes de cortiça, seu pobre corpo, sacudido pela tosse, guarda mais lembranças do que se tivesse mil anos, e que carrega nele, que pode arrancar dele as épocas, os ambientes sociais, as estações, os campos, os caminhos, tudo o que conheceu, amou, respirou, sofreu; tudo isso se oferece a Proust no quarto enfumaçado donde quase não sai mais. Mas a doença não impõe apenas as condições de vida propícias ao trabalho. A epilepsia de Dostoiévski marca profundamente todas as suas personagens com um sinal que as torna reconhecíveis à primeira vista, e é ela que imprime o caráter misterioso à humanidade que ele criou. Todas as falhas, todos os desvios do criador dotado de gênio, a obra os utiliza também; aproveita-se deles para se expandir em direções em que ninguém se havia aventurado. A lei da hereditariedade, que rege a família humana, vige também entre o escritor e os filhos imaginários de seu espírito; mas, se tivesse tempo e audácia, eu me esforçaria para mostrar que, no universo romanesco, as taras do criador, longe de prejudicar, podem enriquecer os seres que ele engendra. Em contrapartida, quando o romancista é um homem fisicamente pujante e equilibrado, como foi Balzac, por exemplo, parece que a obra não tem descanso enquanto não destruir o gigante que a engendrou: o mundo engendrado por Balzac acabou por desmoronar e esmagá-lo. Se não chega a matá-lo, a obra faz do criador um ser acima dos demais; transmite-lhe exigências, aspirações que não se adaptam mais às condições corriqueiras da vida: Tolstói casou-se quando não era mais que um homem como os outros, fundou uma família, mas à medida que se desenvolvia, que sua doutrina ganhava corpo, que sentia o mundo inteiro atento a seus menores gestos, sua vida de família foi se tornando um inferno atroz. Contudo, não nos maltratemos além da conta: esse é destino dos grandes, e na verdade as obras da maioria não são tão temíveis assim. Longe de nos devorar, conduzem-nos por caminhos floridos a plateias encantadoras e versos de louvor muito apreciados. Sabemos melhor nutrir o monstro, sabemos melhor domesticá-lo quanto menos vigoroso for... Pior ainda, estará ele vivo em boa parte dos casos? Que temos a temer de um monstro empalhado? O romancista que fabrica em série suas personagens de papelão pode bem dormir sobre as duas orelhas. Pode até ser que, em outras épocas, tenha criado personagens vivas, mas frequentemente nossa obra morre antes de nós e nós lhe sobrevivemos, miseráveis, cumulados de honrarias e já de esquecimento. Eu gostaria que estas linhas inspirassem face ao romance e aos romancistas um sentimento complexo — complexo como a própria vida que devemos retratar por ofício. Essa pobre gente a que pertenço merece alguma piedade e talvez um pouco de admiração por ousar perseguir uma tarefa tão desvairada como a de fixar, de imobilizar em seus livros o movimento e a duração, de cingir com um contorno preciso nossos sentimentos e nossas paixões, quando na verdade nossos sentimentos são incertos e nossas paixões evoluem sem cessar. A despeito da lição de Proust, obstinamo-nos em falar do amor como de um absoluto, quando na realidade as pessoas que mais amamos nos são, a cada instante, profundamente indiferentes e quando, em contrapartida e apesar das leis inelutáveis do esquecimento, nem um amor chega inteiramente ao fim dentro de nós. Do homem sinuoso e diverso de Montaigne, fazemos uma criatura bem construída, que desmontamos peça por peça. Nossas personagens raciocinam, têm ideias claras e distintas, fazem exatamente o que querem lazer e agem segundo a lógica, ao passo que, na realidade, o inconsciente é a parte essencial de nosso ser e a maioria de nossos atos tem motivos que escapam a nós mesmos. Se descrevemos num livro um acontecimento assim como o observamos na vida, é quase sempre isso que a crítica e o público julgam inverossímil e impossível. O que prova que a lógica humana que rege o destino dos heróis de romance não tem quase nada a ver com as leis obscuras da vida verdadeira. Mas essa contradição inerente ao romance, essa sua incapacidade de reproduzir a mesma complexidade da vida que ele tem missão de retratar — se não tem meios de ultrapassá-la, ele não poderia, em contrapartida, contorná-la? Em minha opinião, isso equivaleria a reconhecer que os romancistas modernos foram ambiciosos demais. Talvez seja o caso de resignar-se a não mais fazer concorrência com a vida. Talvez seja o caso de reconhecer que a arte é, por definição, arbitrária, e que mesmo não alcançando o real em toda sua complexidade, é ainda possível alcançar aspectos da verdade humana, como fizeram no teatro os grandes clássicos, valendo-se, porém, da forma mais convencional que há: a tragédia em cinco atos e em cinco versos. Deveríamos reconhecer que a arte do romance é, antes de tudo, uma transposição do real e não uma reprodução do real. É patente que, quanto mais um escritor se esforça por nada sacrificar da complexidade viva, maior é a impressão de artifício. Que há de menos natural e de mais arbitrário que as associações de ideias no monologo interior, como Joyce o utiliza? O que acontece no teatro poderia nos servir de exemplo. Desde que o cinema falado começou a nos mostrar seres reais à vista, o realismo do teatro contemporâneo, sua imitação servil da vida parece em comparação o cúmulo do factício e do falso; e começa-se a pressentir que o teatro não escapará à morte se não reencontrar seu plano verdadeiro, que é a poesia. A verdade humana por via da poesia. Da mesma maneira, o romance, como gênero, encontra-se atualmente num impasse. Por mais que, pessoalmente, sinta por Marcel Proust uma admiração que não para de crescer ano a ano, estou persuadido de que ele é literalmente inimitável e que em vão procuraríamos uma saída no rumo em que se aventurou. Afinal de contas, a verdade humana que emana da Princesa de Clèves, de Manon Lescaut, de Adolphe, de Dominique ou A porta estreita, será ela tão desdenhável assim? Nessa clássica Porta estreita, a contribuição psicológica de Gide será menor do que aquela que encontramos em Os moedeiros falsos, escrito segundo a estética mais recente? Aceitemos humildemente que as personagens romanescas formam uma humanidade que não é uma humanidade de carne e osso, mas uma sua imagem transposta e estilizada. Conformemo-nos em alcançar a verdade apenas por retração. Devemos nos resignar às convenções e às mentiras de nossa arte. Não se leva suficientemente em conta que o romance que agarra a realidade tão de perto quanto possível é igualmente mentiroso pelo simples fato de que os heróis se explicam e se a narram. Pois nas vidas mais atormentadas as palavras contam pouco. O drama de um vivente quase sempre se desenrola e se desfecha em silêncio. Na vida, o essencial não se exprime jamais. Na vida, Tristão e Isolda falam do clima, da senhora que encontraram pela manhã, e Isolda quer saber se Tristão acha o café forte demais. No limite, um romance semelhante à vida seria composto apenas de reticências. Pois, de todas as paixões, o amor, que forma o fundo de quase todos os nossos livros, parece ser a que menos se exprime. O mundo dos heróis de romance vive, se me permitem dizê-lo, em uma outra estrela — a estrela em que os seres humanos se explicam, fazem confidências, se analisam com a pluma à mão, procuram as cenas ao invés de evitá-las, cingem seus sentimentos confusos e indistintos com um traço marcado, isolam-nos do imenso contexto da vida e observam-nos ao microscópio. Entretanto, graças a toda essa trucagem, alcançaram-se grandes verdades parciais. Essas personagens fictícias e irreais ajudam-nos a nos conhecer melhor e a tomar consciência de nós mesmos. Não são os heróis de romance que devem servilmente ser como na vida, ao contrário, são os viventes que devem pouco a pouco se conformar às lições que derivam das análises dos grandes romancistas. Os grandes romancistas oferecem aquilo que Paul Bourget, no prefácio de um de seus primeiros livros, chamava de lâminas de anatomia moral. Por viva que nos pareça uma criatura romanesca, há sempre nela um sentimento, uma paixão que a arte do romancista hipertrofia para que possamos melhor estudá-la; por vivos que nos pareçam, esses heróis têm sempre um significado, seu destino comporta uma lição, emana uma moral que não se encontra jamais num destino real, sempre contraditório e confuso. Os heróis dos grandes romancistas, mesmo quando o autor não pretende provar nem demonstrar qualquer coisa, detêm uma verdade que pode não ser a mesma para cada um de nós, mas que cada qual pode descobrir e aplicar. E certamente nossa razão de viver, o que legitima nosso absurdo e estranho ofício é a criação de um mundo ideal, graças ao qual os viventes enxergam com mais clareza seu corações e podem demonstrar entre si mais compreensão e mais piedade. Deve-se perdoar muita coisa ao romancista pelos perigos aos quais se expõe. Pois escrever romances não é repouso nenhum. Lembro-me de um título de livro: L’Homme qui a perdu son moi. Pois bem, é a personalidade mesma do romancista, e seu eu que está a cada instante em jogo. Assim como o radiologista é ameaçado em sua própria carne, o romancista o é na unidade mesma de sua pessoa. Ele se passa por todas as personagens; transforma-se em demônio ou em anjo. Vai longe, em imaginação, na santidade e na infâmia. Mas que resta dele, depois de suas múltiplas e contraditórias encarnações? O deus Proteu, que muda de forma à vontade, não é de fato ninguém, uma vez que pode ser todo mundo. É por isso que, mais que a qualquer homem, uma certeza é necessária ao romancista. A essa força de desagregação que age sobre ele sem descanso — digo “sem descanso’’ porque um romancista jamais interrompe o trabalho, mesmo e sobretudo quando é visto em repouso —, a essa força de desagregação é preciso que ele oponha uma força mais potente, é preciso que reconstrua sua unidade, que ordene suas múltiplas contradições em torno de uma rocha inamovível; é preciso que as potências opostas de seu ser cristalizem-se em torno Àquele que não muda jamais. Dividido contra si mesmo, e por isso condenado a perecer, o romancista não se salva senão na Unidade, não se reencontra senão quando reencontra Deus. 1 Conferência proferida em 1932, publicada em 1933 e recolhida in Oeuvres romanesques et théâtrates complètes, vol. II (Paris: Gallimard/Plêiade, 1979). (N.E.) François Mauriac
Enviado por Germino da Terra em 26/10/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras