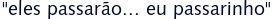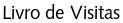a varanda do frangipani (12º capítulo), de Mia Coutode regresso ao céu
Nessa noite, enquanto Izidine dormia, eu fui chamado pelo pangolim. Subitamente exilado de meu hospedeiro, voltei ao meu lugar de morto, solitário e fundo. Me demorei uns momentos a transitar de visão. Até que me surgiu o pangolim. O bicho, enrodilhado, parecia dormir.
— Dormir, eu? Acordo mais cedo que o céu. O pangolim se desenredou. E, sem intróitos, me atirou: — Aceite, Ermelindo. Tudo isto é muito perigoso. O pangolim me queria convencer a voltar definitivamente para o meu buraco. Eu devia deixar o mundo dos vivos. E autorizar que me nomeassem de herói. — Fique herói, só lhe chateiam de ano em ano. Habitar entre os vivos, só podia me trazer maldições. O inhacoso morreu quando queria certificar-se do que estava a ver. Deixe-se aqui, Ermelindo, aceite-se na sua cova. Deixe que eles venham promover-lhe em herói. Mesmo mentira isso lhe aleija? Você faça como o porco-espinho. Não é o espinho que dá tranquilidade ao porco-espinho? E será que o bicho se pica nos próprios espinhos? Eu sentei-me no meu túmulo. Tomei o velho martelo entre as mãos. Com ele golpeei o chão. Não, eu não podia regressar agora. O mundo dos vivos era perigoso? Mas eu já tinha provado essa miragem. Além de tudo, me faltava pouco para chegar ao final dessa peregrinação pelo corpo de Izidine. Não estava o polícia condenado? Não tinha os dias descontados? E havia mais, havia qualquer coisa que eu não podia confessar ao pangolim. Era o gosto que me dava ser roçado por existência de mulher. Marta Gimo me trazia a ilusão de voltar ao tempo em que amei uma inautêntica. Na cova eu não tinha acesso a memória. Perdera a capacidade de sonhar. Agora, alojado em corpo de vivente, me lembrava de tudo, eu era omnimnésico. Era como se vivesse de regresso, em viagem de ida e volta. Me lembrava, por exemplo, do barulho da madeira sendo golpeada. E era como se estivesse sucedendo hoje esse tempo eu que trabalhei na fortaleza. Em tempos de vivo eu me metia, logo cedo, a converter madeira em tábua, esquadrinhando-a janela, rectangulando a porta. Um dia — como eu me lembro desse dia — me ocorreram vários indivíduos. Me puxaram pelos ombros e, maus modos, me interrogaram: — Não se envergonha de fabricar castigo para os seus irmãos? Irmãos? Esses a que chamavam de “irmãos” não tinham parentesco comigo. Eram revolucionários, guerrilheiros. Combatiam o governo dos portugueses. Eu não tinha coração nessas makas. Sempre estudara em missão católica. Me tinham calibrado os modos, acertadas as esperas e as expectativas. Me educaram em língua que ao me era materna. Pesava sobre mim esse eterno desencontro entre palavra e ideia. Depois fui aprendendo a não querer do mundo mais que o meu magro destino. A única herança que recebi foi a pobreza. A única prenda que me deram foi o medo. Me deixassem nessa conformidade. Os outros contratados, porém, me apertavam exigência. Eles, por exemplo, só fingiam trabalhar. Na realidade, criavam era dificuldade e emperramento. Só eu levava a sério as obras da cadeia. E disso me acusavam: eu trabalhava de traidor, carrasco dos justos. Ri-me na cara deles. Que atentassem no caso de Jesus. Alguém lembra o carpinteiro que oficinou o crucifixo? Alguém lhe deita as culpas? Não. Mão pecadora foi a que pregou os pulsos do Senhor. — Você para de martelar ou nós te martelamos os cornos. Quem fala consente? Fiquei calado. Olhei os mamparras. Me pareceram aranhas. Daquelas aranhas enormes que depois de mortas se reduzem a ínfima ninharia. Sorri, desdenhador. Um deles me abanou ameaças: — Os traidores pagam. Consigo, vai ser a berro e fogo. Regressei à minha cubata. Me fechei, como era usual, na totalidade do escuro. No meu quarto não havia pano. Porta e cortinas eram de madeira: não havia raio de luz que ali penetrasse. Nessa noite, me custou ficar em mim. Meus olhos se alongavam a ponto de colher antigas tristezas. E se me inundaram as pestanas, encharcadas de tristezas. Chorava, afinal, de quê? Na manhã seguinte, eu me dirigi ao capataz. A mulher me atendeu e me mandou aguardar. O marido ainda matabichava. Mas eu estava tomado de tanta ansiedade que invadi a sala. O homem perplexou-se com meu pedido: — Patrão: eu não quero trabalhar mais na fortaleza. Improvisei um farrapo de desculpa. Que a serradura me entranhara o peito. Que eu estava como o mineiro com os pulmões a céu aberto. Já tossia mais que respirava. O homem aceitou. E transferiu-me para os trabalhos da praia. Ali, junto às rochas, construía-se um ancoradouro. Num breve futuro, barcos cheios de prisioneiros chegariam por aquela via. Só atracariam se se vencesse a barreira das rochas. Dias e dias eu casei tábua com tábua, aumentando o encosto da terra. Tocava a despegar, todos dispersavam. Só eu me deixava olhando o mar, esse terraço luminoso. Ali eu ganhava conforto de uma ilusão: nada na minha vida se havia perdido. Tudo eram ondas, em vaivências. Foi nessa altura que comecei a receber a mais estranha e doce das visitas. A primeira vez quase faleci de susto. Eu já dormia quando senti uma mão me tocar. Me assaltavam para desconto de vida? Não, o intruso me dedicava açucarosas carícias. Eu sentia o seu respirar, enervando o ar. Seus lábios me dedilhavam a pele, parecia que soletrava meus contornos. Depois, me mordiscou o pescoço. Eu não lograva adivinhar quem era. Seu rosto não se oferecia a conhecer. Depois, o vulto descia em mim, rodava os braços por meu peito. Colava-se nas minhas costas, eu sentia suas redonduras se colando em mim. Os seios, o ventre, as nádegas. Nada neste mundo é mais redondo que nádega de mulher. Seu corpo se converteu em meu balouço, meu desaguadouro, meu ancoradouro. Minha amante anonimada muito me passou a frequentar. No final de umas incontáveis noites, a visitadora já me sabia na ponta da língua. Nos seguintes dias eu vivia a única obsessão: adivinhar quem seria a nocturna visitadora. Por um tempo, acreditei ser a esposa do capataz. Não era apenas o seu corpo que me sugeria semelhança. Era, sobretudo, a atitude nervosa do marido. O capataz desconfiava dessas fugas amorosas? Nunca eu viria a saber. Certa vez, a mulher do capataz me fez parar. Comentou o meu pouco aspecto. Trabalhava eu demasiado? Ou me consumia em afazeres de paixão? A mulher sorria, malandra. Eu gaguejei um silêncio. Ela me sossegou: não se preocupe, Ermelindo Mucanga, os homens amam sempre irrealidades, perseguem fantasmas de mulher. Essa noite eu aguardava com ansiedade a chegada da visitadora. Estava certo, agora, da sua identidade. Senti que ela entrava na cubata e se dissolvia no escuro. Suas mãos me tocaram, eu senti esse arrepio me relampejar o corpo. Eu sabia o que vinha a seguir e ofereci o pescoço. Esperava o lábio, o dente, a língua. A mulher demorou a carícia. Até que senti o seu hálito quente me humedecendo o ouvido. Foi quando os dentes, violentos, se cravaram na minha carne. Me admirei mais foi com meu próprio grito. Não sei se se ouviram os demais erros que não contive. Porque esse último intruso, soube-o tarde de mais, era o meu carrasco. A única que eu amara, em toda a minha vida, tinha sido uma mulher cheia de corpo mas sem nenhum rosto. E ocorria duvidar-me: será que, em vida, eu tinha amado um xipoco? Não teria sido isso que me matou? E agora, sendo eu mesmo um xipoco, me apaixonava por um bem real vivente. Ela, Marta Gimo. A enfermeira dava corpo à visitadora de minhas noites na cubata. Como se tivesse sido sempre ela, em linhos e desalinhos. Marta me recordava essa visão, inebrilhante. Como um bicho subterrâneo, a lembrança me escavava no peito um outro coração. O pangolim escutava, agora, a minha confissão. Adivinhava as partes que omiti? O bicho se desencolheu ainda mais: — Você se escolhe, meu irmão. Quer ser toupeira ou caranguejo? O pangolim tinha medo de perder-me a companhia. E me advertia: você se cautele, Ermelindo: coração que ama engrandece. Mas o amor cresce mais rápido que o peito. Você tem costelas que cheguem? Aí, nós discutimos. Quem se pensava o pangolim? Com tantas antiguidades já a língua lhe era maior que a boca. Bem vistas as contas, ele próprio já andava em aflições de magia. A última vez que descera à terra tombara em tais desamparos que desconjuntara escamas às porções. — Não é nada, é a luz que me faz ficar cego. Eu conhecia o argumento do halakavuma. Andamos a aprender o mundo mesmo ainda quando estamos em ventre de mãe. No redondo da barriga, aprendemos a ver mesmo antes de nascer. Os cegos, o que são? São aqueles que não tiveram tempo para acabar de aprender. Palavra de pangolim, já eu há muito a sabia de cor e sal tirado. Mas no buraco da cova, durante a minha morte, eu estive cego por dentro. Não podia ver o meu passado, perdera a lembrança. Não é que estivesse realmente invisual. Era pior ainda. Estava como o cão que perdeu o cheiro. Há coisas que aprendemos para nos longear do bicho que somos. Essas aprendizagens custam tanto que nem delas nos lembramos. Um desses esquecimentos que nos obrigaram foi o de que, em nós, os dentes não têm serviço de morder. Pela misteriosa mulher visitadora eu soube como o dente pode, a um mesmo tempo, ser lâmina e veludo. Pela mordedura da última noite aprendera a definitiva lição da morte. O martelo em minha mão voltou a pesar. Tinha chegado o momento de escolher: eu voltava ao lado da vida, me refugiava de novo em Izidine Naíta. Eu gostava já do moço, ele era feito de boa humanidade. Com ou sem as licenças do halakavuma eu decidia voltar à vida. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 31/03/2012
Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras