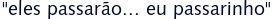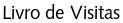A Varanda do Frangipani (1º capítulo), de Mia Couto
o sonho do morto
Sou o morto. Se eu tivesse cruz ou mármore neles estaria escrito: Ermelindo Mucanga. Mas eu faleci junto com meu nome faz quase duas décadas. Durante anos fui um vivo de patente, gente de autorizada raça. Se vivi com direiteza, desglorifiquei-me foi no falecimento. Me faltou cerimónia e tradição quando me enterraram. Não tive sequer quem me dobrasse os joelhos. A pessoa deve sair do mundo tal igual como nasceu, enrolada em poupança de tamanho. Os mortos devem ter a discrição de ocupar pouca terra. Mas eu não ganhei acesso a cova pequena. Minha campa estendeu-se por minha inteira dimensão, do extremo à extremidade. Ninguém me abriu as mãos quando meu corpo ainda esfriava. Transitei-me com os punhos fechados, chamando maldição sobre os viventes. E ainda mais: não me viraram o rosto a encarar os montes Nkuluvumba.
Nós, os Mucangas, temos obrigações para com os antigamentes. Nossos mortos olham o lugar onde a primeira mulher saltou a lua, arredondada de ventre e alma. Não foi só o devido funeral que me faltou. Os desleixos foram mais longe: como eu não tivesse outros bens me sepultaram com minha serra e o martelo. Não o deviam ter feito. Nunca se deixa entrar em tumba nenhuns metais. Os ferros demoram mais a apodrece que os ossos do falecido. E ainda pior: coisa que brilha é chamatriz da mal- dição. Com tais inutensílios, me arrisco a ser um desses defuntos estragadores do mundo. Todas estas atropelias sucederam porque morri fora do meu lugar. Trabalhava longe da minha vila natal. Carpinteirava em obras de restauro na fortaleza dos portugueses, em São Nicolau. Deixei o mundo quando era a véspera da libertação da minha terra. Fazia a piada: meu país nascia, em roupas de bandeira, e eu descia ao chão, exilado da luz. Quem sabe foi bom, assim evitado de assistir a guerras e desgraças. Como não me apropriaram funeral fiquei em estado de xipoco, essas almas que vagueiam de paradeiro em desparadeiro. Sem ter sido cerimoniado acabei um morto desencontrado da sua morte. Não ascenderei nunca ao estado de xicuembo, que são os defuntos definitivos, com direito a serem chamados e amados pelos vivos. Sou desses mortos a quem não cortaram o cordão desumbilical. Faço parte daqueles que não são lembrados. Mas não ando por aí, pandemoniando os vivos. Aceitei a prisão da cova, me guardei no sossego que compete aos falecidos. Me ajudou o ter ficado junto a uma árvore. Na minha terra escolhem um canhoeiro. Ou uma mafurreira. Mas aqui, nos arredores deste forte, não há senão uma magrita frangipaneira. Enterraram-me junto a essa árvore. Sobre mim tombam as perfumosas flores do frangipani. Tanto e tantas que eu já cheiro a pétala. Vale a pena me adoçar assim? Porque agora só o vento me cheira. No resto, ninguém me cuida. Disso eu já me resignei. Mesmo esses que rondam, pontuais, os cemitérios, que sabem eles dos mortos? Medos, sombras e escuros. Até eu, falecido veterano, conto sabedoria pelos dedos. Os mortos não sonham, isso vos digo. Os defuntos só sonham em noites de chuva. No resto, eles são sonhados. Eu que nunca tive quem me deitasse lembrança, eu sou sonhado por quem? Pela árvore. Só o frangipani me dedica nocturnos pensamentos. A árvore do frangipani ocupa uma varanda de uma fortaleza colonial. Aquela varanda já assistiu a muita história. Por aquele terraço escoaram escravos, marfins e panos. Naquela pedra deflagraram canhões lusitanos sobre navios holandeses. Nos fins do tempo colonial, se entendeu construir uma prisão para encerrar os revolucionários que combatiam contra os portugueses. Depois da Independência ali se improvisou um asilo para velhos. Com os terceiro-idosos, o lugar definhou. Veio a guerra, abrindo pastos para mortes. Mas os tiros ficaram longe do forte. Terminada a guerra, o asilo restava como herança de ninguém. Ali se descoloriam os tempos, tudo engomado a silêncios e ausências. Nesse destempero, como sombra de serpente, eu me ajeitava a impossível antepassado. Até que, um dia, fui acordado por golpes e estremecimentos. Estavam a mexer na minha tumba. Ainda pensei na minha vizinha, a toupeira, essa que ficou cega para poder olhar as trevas. Mas não era o bicho escavadeiro. Pás e enxadas desrespeitavam o sagrado. O que esgravatava aquela gente, avivando assim a minha morte? Espreitei entre as vozes e entendi: os governantes me queriam transformar num herói nacional. Me embrulhavam em glória. Já tinham posto a correr que eu morrera em combate contra o ocupante colonial. Agora queriam os meus restos mortais. Ou melhor, os meus restos imortais. Precisavam de um herói mas não um qualquer. Careciam de um da minha raça, tribo e região. Para contentar discórdias, equilibrar as descontentações. Queriam pôr em montra a etnia, queriam raspar a casca para exibir o fruto. A nação carecia de encenação. Ou seria o vice-versa? De necessitado eu passava a necessário. Por isso me cavavam o cemitério, bem fundo no quintal da fortaleza. Quando percebi, até fiquei atrapalhaço. Nunca fui homem de ideias mas também não sou morto de enrolar língua. Eu tinha que desfazer aquele engano. Caso senão eu nunca mais teria sossego. Se faleci foi para ficar sombra sozinha. Não era para festas, arrombas e tambores. Além disso, um herói é como o santo. Ninguém lhe ama de verdade. Se lembram dele em urgências pessoais e aflições nacionais. Não fui amado enquanto vivo. Dispensava, agora, essa intrujice. Lembrei o caso do camaleão. Todos sabem a lenda: Deus enviou o camaleão como mensageiro da eternidade. O bicho demorou-se a entregar aos homens o segredo da vida eterna. Demorou-se tanto que deu tempo a que Deus, entretanto, se arrependesse e enviasse um outro mensageiro com o recado contrário. Pois eu sou um mensageiro às avessas: levo recado dos homens para os deuses. Me estou demorando com a mensagem. Quando chegar ao lugar dos divinos já eles terão recebido a contrapalavra de outrem. Certo era que eu não tinha apetência para herói póstumo. A condecoração devia ser evitada, custasse os olhos e a cara. Que poderia eu fazer, fantasma sem lei nem respeito? Ainda pensei reaparecer no meu corpo de quando eu era vivo, moço e felizão. Me retroverteria pelo umbigo e surgiria, do outro lado, fantasma palpável, com voz entre os mortais. Mas um xipoco que reocupa o seu antigo corpo arrisca perigos muito mortais: tocar ou ser tocado basta para descambalhotar corações e semear fatalidades. Consultei o pangolim, meu animal de estimação. Há alguém que desconheça os poderes deste bicho de escamas, o nosso halakavuma? Pois este mamífero mora com os falecidos. Desce dos céus aquando das chuvadas. Tomba na terra para entregar novidades ao mundo, as proveniências do porvir. Eu tenho um pangolim comigo, como em vida tive um cão. Ele se enrosca a meus pés e faço-lhe uso como almofada. Perguntei ao meu halakavuma o que devia fazer. — Não quer ser herói? Mas herói de quê, amado por quem? Agora, que o país era uma machamba de ruínas, me chamavam a mim, pequenito carpinteiro!? O pangolim se intrigou: — Não lhe apetece ficar vivo, outra vez? — Não. Como está a minha terra, não me apetece. O pangolim rodou sobre si próprio. Perseguia a extremidade do corpo ou afinava a voz para que eu lhe entendesse? Porque não é com qualquer que o bicho fala. Ergueu-se sobre as patas traseiras, nesse jeito de gente que tremexia comigo. Apontou o pátio da fortaleza e disse: — Veja à sua volta, Ermelindo. Mesmo no meio destes destroços nasceram flores silvestres. — Não quero regressar para lá. — É que aquele será, para sempre, o teu jardim: entre pedra ferida e flor selvagem. Me irritavam aquelas vagueações do escamudo. Lhe lembrei que eu queria era conselho, uma saída. O halakavuma ganhou as gravidades e disse: — Você, Ermelindo, você deve remorrer. Voltar a falecer? Se nem foi fácil deixar a vida da primeira vez! Seguindo a tradição de minha família não deveria ser sequer tarefa fazível. Meu avô, por exemplo, durou infinidades. Com certeza, não morreu ainda. O velho deixava a perna de fora do corpo, dormia junto de perigosas folhagens. Oferecia-se, desse modo, à mordedura das cobras. O veneno, em doses, nos dá mais vivência. Falava assim. E parecia a vida lhe dava razão: cada vez ele ficava mais cheio de feitio e forma. O halakavuma se parecia com meu avô, teimoso como um pêndulo. O bicho insistia-me: — Escolha um que esteja próximo para acabar. O lugar mais seguro não é no ninho da cobra-mamba? Eu devia emigrar em corpo que estivesse mais perto de morrer. Apanhar boleia dessa outra morte e dissolver-me nessa findação. Não parecia difícil. No asilo não faltaria quem estivesse para morrer. — Quer dizer que eu vou ter fantasmear-me por um alguém? — Você irá exercer-se como um xipoco. — Deixe-me pensar, disse eu. No fundo, a decisão já tinha sido tomada. Eu fingia apenas ser dono da minha vontade. Nessa mesma noite, eu estava transitando para xipoco. Pelas outras palavras, me transformava num “passa-noite”, viajando em aparência de um outro alguém. Caso reocupasse meu próprio corpo eu só seria visível do lado da frente. Visto por detrás não passaria de oco de buraco. Um vazio desocupado. Mas eu iria residir em corpo alheio. Da prisão da cova eu transitava para a prisão do corpo. Eu estava interdito de tocar a vida, receber directamente o sopro dos ventos. De meu recanto eu veria o mundo translucidar, ilúcido. Minha única vantagem seria o tempo. Para os mortos, o tempo está pisando nas pegadas da véspera. Para eles nunca há surpresa. No princípio, ainda depositei dúvida: esse halakavuma dizia a verdade? Ou inventava, de tanto estar longe do mundo? Há anos que ele não descia ao solo, suas unhas já cresciam a redondear umas tantas voltas. Se mesmo as patas dele tinham saudade do chão, por que motivo sua cabeça não fantasiava loucuras? Mas, depois, eu me fui deixando ocupar pela antecipação da viagem ao mundo dos vivos. Me enchi tanto desta vontade que até sonhei sem chuva nem noite. O que sonhei? Sonhei que me enterravam devidamente, como mandam nossas crenças. Eu falecia sentado, queixo na varanda dos joelhos. Descia à terra nessa posição, meu corpo assentava sobre areia que haviam retirado de um morro de muchém Areia viva, povoada de andanças. Depois me deitavam terra com suavidade de quem veste um filho. Não usavam pás. Apenas serviço de mãos. Paravam quando a areia me chegava aos olhos. Então, espetavam à minha volta paus de acácias. Tudo em aptidão de ser flor. E para convocar a chuva me cobriam de terra molhada. Assim eu me aprendia: um vivo pisa o chão, um morto é pisado pelo chão. E sonhei ainda mais: após a minha morte, todas as mulheres do mundo dormiam ao relento. Não era apenas a viúva que estava interdita a abrigar-se, como é hábito da nossa crença. Não. Era como se todas as mulheres tivessem, em mim, perdido o esposo. Todas estavam sujas por minha morte. O luto se estendia por todas as aldeias como um cacimbo espesso. As lamparinas iluminavam o milho, mãos trémulas passavam com o cadinho do fogo entre os espigueirais. Limpavam-se os campos dos maus-olhados. No dia seguinte, mal acordei me pus a abanar o halakavuma. Queria saber quem era a pessoa que ia ocupar. — É um que está para vir. — Um? Qual? — É um de fora. Vai chegar amanhã. Depois, acrescentou: Foi pena não me ter lembrado antes. Uma semana antes e tudo estaria já resolvido. Há uns poucochinhos dias mataram um grande, lá no asilo. — Que grande? — O director do asilo. Foi morto ao tiro. Por motivo desse assassinato vinha da capital um agente da polícia. Eu que me instalasse no corpo desse inspector e seria certo que morreria. — Você vai entrar nesse polícia. Deixe o resto por minhas contas. — Quanto tempo vou ficar lá, na vida? — Seis dias. É o tempo do polícia ser morto. Era a primeira vez que eu iria sair da morte. Por estreada vez iria escutar, sem o filtro da terra, as humanas vozes do asilo. Ouvir os velhos sem que eles nunca me sentissem. Uma dúvida me enrugava. E se eu acabasse gostando de ser um “passa-noite”? E se, no momento de morrer por segunda vez, me tivesse apaixonado pela outra margem? Afinal, eu era um morto solitário. Nunca tinha passado de um pré-antepassado. O que surpreendia era eu não ter lembrança do tempo que vivi. Recordava somente certos momentos mas sempre exteriores a mim. Recordava, sobretudo, o perfume da terra quando chovia. Vendo a chuva escorrendo por Janeiro, me perguntava: como sabemos que este cheiro é da terra e não do céu? Mas não lembrava, no entanto, nenhuma intimidade do meu viver. Será sempre assim? Os restantes mortos teriam perdido a privada memória? Não sei. Em meu caso, contudo, eu aspirava ganhar acesso às minhas privadas vivências. O que queria lembrar, muito-muito, eram as mulheres que amei. Confessei esse desejo ao pangolim. Ele me sugeriu, então: — Você mal chegue à vida queime umas sementes de abóbora. — Para quê? — Não sabe? Queimar pevides faz lembrar amantes esquecidos. No dia seguinte, porém, eu repensei a minha viagem à vida. Esse pangolim já estava demasiado gasto. Poderia eu confiar em seus poderes? Seu corpo rangia que nem curva. Seu cansaço derivava do peso de sua carapaça. O pangolim é como o cágado caminha junto com a casa. Daí seus extremos cansaços. Chamei o halakavuma e lhe disse da minha recusa em me transferir para o lado da vida. Ele que entendesse: a força do crocodilo é a água. Minha força era estar longe dos viventes. Eu nunca soube viver, mesmo quando era vivo. Agora, mergulhado em carne alheia, eu seria roído por minhas próprias unhas. — Ora, Ermelindo: você vá, o tempo lá está bonito, molhado a boas chuvinhas. Eu que fosse e agasalhasse a alma de verde. Quem sabe eu encontrasse uma mulher e tropeçasse em paixão? O pangolim avaselinava a conversa e engrossava a vista. Ele sabia que não era assim fácil. Eu tinha medo, o mesmo medo que os vivos sentem quando se imaginam morrer. O pangolim me assegurava futuros mais-que-perfeitos. Tudo se passaria ali, na mesmíssima varanda, no embaixo da árvore onde eu estava enterrado. Olhei o frangipani e senti saudade antecedida dele. Eu e a árvore nos semelhávamos. Quem, alguma vez, tinha regado as nossas raízes? Ambos éramos criaturas amamentadas a cacimbo. O halakavuma tinha também suas gratidões com o frangipani. Apontou a varanda e disse: — Aqui é onde os deuses vêm rezar. Mia Couto
Enviado por Germino da Terra em 04/03/2012
Alterado em 04/03/2012 Copyright © 2012. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras