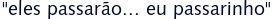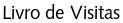Antônio Torres — um escritor público de paixões, por Janir Hollanda e Beatriz Mota
Antônio Torres escreve a vida na primeira pessoa, sem tempo para terceirização de seus sonhos. Do chão de terra batida da longínqua Junco (hoje Sátiro Dias), no sertão da Bahia, avistou, ainda menino, um futuro diferente do de seus conterrâneos. Queria ser Castro Alves, tão cedo quanto se tornou um escritor público das paixões, correspondente dos amores migrantes: seu destino também seria esse, o de correr o mundo, perder o chão para aprender a sua lida. Iniciou o ofício das letras como jornalista e ainda passou pela publicidade antes de se sentir seguro para lançar seu primeiro livro, Um Cão Uivando Para a Lua (1972). O sucesso de estreante deu-lhe ânimo para permanecer no ramo. Essa Terra (1976), seu romance mais vendido e traduzido, marcou a literatura contemporânea com um impactante retrato da melancolia (universal) do retirante nordestino. Seguiu, nesses quase 40 anos de carreira literária, enredando seus personagens com sentimentos pessoais: “vivências, memórias, experiências, fracassos, ilusões e desilusões, esperanças literárias”. Hoje, com onze romances publicados, mantém o hábito de pegar a estrada: viaja por todo o País para aplicar oficinas e, aos 70 anos, embarcou no trem que o leva a novas paragens: os livros em meios eletrônicos. Um grande contador de histórias, bom de papo e memória, Antônio Torres fala à revista Para Saber e Conhecer Nossa Língua sobre lembranças de sua infância, faz revelações sobre seu processo criativo, revê sua obra e analisa a situação atual de sua profissão, diante do avanço do mundo virtual. O que a escrita representa para você? É como se estivesse no divã de um psicanalista imaginário. É uma busca pelo conhecimento de si mesmo, de saber quem você é de fato, qual é a sua própria história. E esse autoconhecimento leva a um outro, que é o de descobrir que você pensa sobre alguma coisa que antes não sabia que pensava. Escrever, antes de tudo, é um registro de emoções, de sensações. E, no meu caso particular, tem muito de memorialismo. Então, a ficção não existe? Ela é apenas o resultado dessa busca, uma ligação indissolúvel com a realidade vivida? Aí você me pegou no contrapé. Eu sempre desejei, ambicionei, ser um ficcionista. Na verdade, tudo parte de algo preexistente, toda ficção começa com elementos da sua vivência. Com algo que você viveu, e desse algo você faz uma ficção. Muita gente confunde meus personagens comigo mesmo, sobretudo quando eu escrevo na primeira pessoa. Eu gosto de escrever na primeira pessoa para me plasmar no personagem e fazer com que eu e ele pareçamos a mesma pessoa. Mas há uma diferença nisso, pois, na medida em que trago o personagem “eu” para o reino da fabulação, esse “eu” que está ali é um outro. De seus 11 romances publicados, qual deles é mais Antônio Torres? Estou em todos eles, de alguma maneira. Até quando os personagens são reais, como o Cunhambebe, do romance Meu Querido Canibal. Para mim, ele foi o primeiro herói brasileiro. Cheguei a Cunhambebe quando escrevi Centro das Nossas Atenções, pequeno livro numa coleção chamada ‘Cantos do Rio’, e que, seguido de Meu Querido Canibal e O Nobre Sequestrador, se tornaria uma trilogia do Rio de Janeiro. Durante a pesquisa, comecei a entrar na história do Rio e me apaixonar pela cidade. Descobri uma aldeia Guarani e fui até lá. Não dava para subir a montanha de carro, era preciso ir a pé. Nesse caminho, eu fui me encontrando comigo mesmo, algo muito forte. Passamos numa casinha, numa tapera, como as taperas da minha infância no sertão da Bahia. E havia uma mulher índia, na porta de casa, com uma criança no colo, nua. Levei um choque e pensei: ‘Eu já fui essa criança’. Lembrei-me dos meus irmãos, que, por causa do calor, minha mãe criava nus. Depois, escrevi O Nobre Sequestrador, a história do René Duguay-Trouin, que fez o primeiro sequestro da cidade, em 1711, durante a invasão francesa. O primeiro sequestro do Rio foi da própria cidade. O cara sequestrou-a por 50 dias, enquanto esperava o pagamento do resgate. Mas como é que eu ia me identificar com um sequestrador? É quando eu conto a volta dele para casa, onde ele pensava em chegar como herói. E na hora que eu estou escrevendo essa volta, claro que entra aí o ficcionista. Eu pesquiso, leio a história e quero ser fiel a ela. Mas tem uma hora que é minha. Tenho de botar isso do meu jeito. E eu boto esse momento como uma grande melancolia. A política já tinha mudado e Luis XIV não queria mais que essa vitória dele no Rio de Janeiro repercutisse na Europa. Comecei a sentir aquela mesma melancolia, era como se eu fosse ele. Os momentos de perda, de derrota, de frustração, o livro em que você se empenha tanto e que não tem a repercussão esperada... Eu comecei a me sentir na pele daquele herói, que tem final nada heroico. Como e quando você se descobriu escritor? Foi no sertão da Bahia, num povoado, Junco, hoje Sátiro Dias. Ficava a 42 km da sede do município, sem estrada. O lugar era aquilo que o Luiz Gonzaga cantava: “Um lugar sem rádio, sem notícias das terras civilizadas”. E também sem livro. Nesse lugar, só existia um professor particular, o Laudelino, que era uma figura pública tão importante que recebeu o apelide de Pai Lau. Um dia aparece uma professora, Serafina, com a criação da escola pública. Essa professora fez um verdadeiro trabalho de catequese com as mães. E, graças a isso, um dia me aconteceu a cena mais memorável de toda a minha vida: minha mãe chega da rua, com um objeto não identificado, chamado ABC, e começa a me mostrar as letras e o nome das letras. Aquilo me provocou um encanto. Na minha cabeça, as letras eram como as pessoas, cada uma tinha um jeito e nome diferente. Minha mãe se empolgou com a minha reação e me trouxe a cartilha. Logo, eu já juntava as sílabas. Depois, me levou para a escola. A professora me recebeu como um prêmio, pois eu era um menino já semialfabetizado. Quando chegou outra professora, já no primeiro dia ela pediu que abríssemos um livro, uma antologia de textos, e lêssemos trechos. Para mim caiu, o começo de Iracema: Ver-des Ma-res Bra-vi-os da mi-nha ter-ra na-tal, onde can-ta a jan-da-ia nas fron-des da car-na-ú-ba”. Essa bendita professora passou a fazer com a turma uma oficina literária diária. Graças a essas duas professoras a fama do menino começou a correr. Um dia, voltando da feira, tinha um rapaz me esperando, com um lápis em uma das mãos e uma folha na outra. Ele estava apaixonado por uma garota e não tinha coragem de se declarar. Queria fazê-lo em uma carta, mas não sabia escrever. Isso mexeu muito comigo. Primeiro, era uma honra ser convocado para tão elevada missão. Segundo, era um temor. E se eu não soubesse transmitir, por escrito, toda essa paixão? Na semana seguinte, a moça que recebeu a carta estava lá para que eu a lesse para ela. Fui um escritor público. Logo depois, vieram as mulheres dos migrantes para o Sul da Bahia. De tempos em tempos, essas verdadeiras viúvas de homens vivos faziam fila para receber as cartas dos maridos e mandavam me chamar. Lia as cartas nas feiras, eram cenas alegres e tristes, ao mesmo tempo. Elas ficavam felizes com as notícias, mas se penduravam no meu ombro, chorando, molhando as cartas. Depois eu tinha que escrever as respostas. Eu passava muito bem, pois acabavam me levando a uma barraca para escolher o que eu quisesse para comer. Eu comecei como escritor bem pago, eram direitos autorais gostosíssimos: arroz-doce, pão de ló, guloseimas mis. Como se deu a gênese do seu primeiro livro, Um Cão Uivando Para a Lua? Comecei muito cedo a trabalhar em jornal, onde eu entrei com consciência de que gostava de escrever. Cheguei dos 18 para 19 anos, em Salvador, ao Jornal da Bahia. Entrei como repórter de polícia. O jornal, na época, era muito intelectualizado. Então você tinha um incentivo, ali, para se encaminhar para as letras. Era uma escola de jornalismo e literatura. Mais tarde, fiquei três anos em Portugal, tornei-me amigo de poetas. Passei também pela publicidade... Tudo isso até o momento de escrever o primeiro livro. O jornalismo me ensinou a ver o mundo. A publicidade me ensinou a contar isso rapidinho. Tanto que os meus livros são, em geral, magros. Não por preguiça. Mas por esforço enorme de condensação, de dizer o máximo possível em poucas palavras. A falta de chão e a desterritorialização são marcas muito fortes de seus personagens. Isso se deve, de alguma forma, a sua saída ainda jovem da sua terra, a suas viagens pelo mundo, a sua busca por “terra firme”? Não é só o lado pessoal. É muito da observação desse ciclo de deslocamento, do ir e vir, nordeste-sudeste. Convivi muito com gente da minha terra em São Paulo, nos meus primeiros tempos por lá. Sempre que eu podia ia para a periferia, ver como eles viviam. É uma relação psicologicamente complexa, você percebe certo conflito, algo não muito bem resolvido do cara que deixa um lugar e vai para outro. Tentei pegar isso no Essa Terra, esse personagem que vai, volta e se mata, por se sentir sem chão. Tem muito a ver com a minha condição de retirante e com a minha convivência com os retirantes. Por trás disso, sim, está toda essa falta de chão, do sujeito que se move de um lugar para o outro, perde o que tinha e não necessariamente vai encontrar o que queria. Essa é a perspectiva do meu trabalho. Como se dá o seu processo de escrita, o que o motiva a escrever um novo livro? Não há momento mais preocupante na vida de um autor do que quando Ele teme que pode estar de pote vazio. Nesses momentos, surgem perguntas: Para onde vou? Será que ainda tenho algo a dizer? Houve um momento em que um sonho me deu inspiração. Sonhei uma noite que matava meu amigo. Acordei suado, desesperado, pois parecia tão real... Era um sonho apavorante, em que ele se dizia muito doente e mostrava as dores que sentia na barriga e ela começava a falar: dói, dói, dói. Eu pegava uma pistola e dava um tiro na barriga para matar a dor que ele estava sentindo. Ele caía, em câmera lenta, com a cara tão fantasticamente de horror, que eu dava o segundo tiro para matar o horror. Eu começava a pular e dar vivas ao fato de eu ter acertado os dois tiros. Saía, então, correndo, jogava a arma na lixeira e entrava num táxi. Comecei a viajar, a fugir, até chegar à terra onde nasci, onde um tio me chamava do maluco. Eu pensava, então: ‘Pronto, já saiu no jornal que matei o camarada’. Claro que eu acordei apavorado. Fui fazer psicanálise, com uma mulher que me botou no divã quatro vezes por semana, sempre trabalhando esses tiros. Foi uma experiência riquíssima. Viajei quatro anos nessa história. Enquanto isso, eu ia percebendo que foi o meu inconsciente que resolveu o meu problema sério de falta de assunto. O medo da ausência de assunto me levou a esse assunto. O meu inconsciente trabalhou enquanto eu dormia, e me deu um romance, que veio a se chamar Um Táxi Para Viena D’Áustria. Então o inconsciente tem muitas vezes me socorrido. Como surgiu a ideia para esse título? Estava num trânsito pesado, dentro de um táxi, e o rádio tocava uma música lindíssima. Eu aguardei, para saber que música era: era ‘Missa em Dó Maior’, de Mozart. Pronto, de repente a música se ligou com o meu sonho. Pois quando o personagem chama o táxi, o rádio está ligado nessa música, então o cara adormece e vai fazer uma viagem para Viena d’Áustria, para assistir ao concerto de adeus ao século XX. Com Tom Jobim no piano, Mile Davis no trompete, Baden Powell no violão, Sigmund Freud no reco-reco e Cabralzinho, o personagem assassinado, no caixão... A música também tem muito a ver com o seu processo de escrita? Muito, sou um escritor movido à musica. Toca algum instrumento? Por isso que eu escrevo... Já que eu não toco piano como Tom Jobim, trompete como Mile Davis, nem reco-reco como Freud... Qual livro seu teve mais sucesso comercial? Eu tive sorte de estrear com um livro de muito sucesso, que foi considerado a revelação do ano pela crítica, e isso se refletiu nas vendas. Depois, veio Homens dos Pés Redondos, que foi publicado numa grande editora e isso teve reflexo nas vendas, mas no eixo Rio—São Paulo. A coisa só ganhou o Brasil com o Essa Terra, que já saiu com a tiragem inicial de 30 mil exemplares, isso é muito até hoje. Esgotou-se rapidamente. Os outros todos também tiveram destinos bons: Meu Querido Canibal já está na nona edição. Meninos, Eu Conto, na décima. Dá para viver de literatura? Vivo de escrever, o que não é necessariamente viver de literatura. O problema de viver de literatura é a irregularidade. Você recebe bem quando vende bem, e ninguém vende bem o tempo todo... Vivo dos direitos autorais e conexos... As conferências, oficinas literárias... Como é chegar aos 70 anos? A primeira resposta que me vem à cabeça, de imediato, é: vamos pular esse capítulo. Mas a gente pode pular de falar, mas não de pensar nele, senti-lo, vivê-lo. Na verdade, eu me sinto no lucro, quando eu penso em boa parte da minha geração que já se foi. Alguns companheiros maravilhosos que já se foram. Claro, isso não compensa a ausência deles. Mas você pensa assim: podia ter sido pior, podia não ter feito 70. Já que fiz... Tenho até recebido umas homenagens... Mas, claro, a idade lhe traz certa melancolia. Qual foi o seu grande momento nessa longa caminhada de 70 anos? A noite de autógrafos do meu primeiro livro: 14 de novembro de 1972. O livro ficou pronto naquele dia. O lançamento ganhou uma página no Jornal do Brasil e, por causa disso, foi noticiado no Repórter Esso. Encheu. No final, saio com a minha mulher, um amigo e sua mulher, de carro. Ficamos rodando na orla marítima, ouvindo Gal Costa cantando Caymmi, sem dizer nada. Foi um clima... Era aquele garoto lá da escola, dos “Ver-des Ma-res”, andando à beira-mar, que tinha conseguido chegar ao que ele sonhou, quando leu esses primeiros textos. Estavam lá a mãe, o Pai Lau, a Serafina... O escritor sempre teve uma relação lúdica com a sua escrita, com o papel. Agora, você trabalha num ambiente virtual. O livro virtual vai produzir uma nova literatura? Vai mudar o processo de criar? Já há sinais de que está influindo. Não na minha geração, nós somos de banca, de tarimba. Tive uma relação muito lenta para aceitar o computador. Agora, me defronto com o seguinte fato: livro virtual não vai acabar com o livro de papel de maneira alguma, mas vai estender as possibilidades de a escrita chegar a mais lugares, a mais gente. Eu já vejo como a realidade virtual está beneficiando o livro de papel. Outro dia, fui fazer uma palestra numa universidade no extremo sul da Bahia, um lugar muito longe. E me apresentaram, para autografar, livros velhos, de outras editoras. Perguntei como conseguiram: no sebo pela internet. Viva! Que maravilha, pois vivemos num país sem livrarias, com exceção das grandes capitais. E do ponto de vista do autor? Já há uma geração dando sinais de como essa realidade virtual está incorporada ao processo criativo. Tem gente que já nasceu escrevendo por e-mail. Os formadores dos blogs. E uma gente que espera chegar ao mundo da edição do papel, mas enquanto não chega está fazendo o seu próprio público e comunidade de leitores. A realidade virtual facilitou e aumentou o interesse pela escrita. O céu é o limite para essa comunicação virtual. E uma comunicação que tem seu lado complicado, pois nós que estamos no impresso passamos por um crivo. Excesso de personalismo e pouco filtro são problemas que eu vejo agora na sociedade livre da internet. Como você vê os jovens escritores e os leitores desse novo tempo? A juventude chegou a um mundo pronto, e isso é uma vantagem por um lado. Os recursos que temos são fantásticos, a quantidade de informações e livros. Mas, por outro lado, há um aturdimento. Quanto partem para escrever, muitos abusam do personalismo, do narcisismo exacerbado, um mal geral apavorante. Mas o escritor tem outro vírus dentro dele, ele vai sempre querer questionar a realidade. Isso é que faz a literatura, ela parte de um estranhamento que você tem diante de si, do seu tempo, do mundo fora do lugar. Em algum momento, quem se descobrir escritor mesmo, vai parar de brincar. Há uma tendência preocupante nesse mundo que é a mudança do leitor. Esse, sim, mudou completamente. Isso, a meu ver, tem raízes profundas no grande corte epistemológico do mundo que foi a implosão do socialismo. No tempo do socialismo, em que viajei muito para a Europa, houve o crescimento da cultura ocidental em função do conflito leste-oeste e medo do oeste de que o mundo todo se tornasse oriental. Com a queda do mundo de Berlim, virou uma via de mesma mão, um pensamento único e triunfalista. Desaparecem as utopias. O Paulo Coelho teve um saque de gênio quando percebeu o vazio que isso trouxe. Sai a utopia, sai a esperança de nação coletiva. O coletivo desaparece para entrar o individual. E ele saca o vácuo e cria o slogan, com o qual autografa: “para a sua lenda pessoal”. Pronto, todo mundo quer essa lenda pessoal, pois não há outra em que se agarrar. Janir Hollanda e Beatriz Mota
Enviado por Germino da Terra em 28/10/2011
Alterado em 28/10/2011 Copyright © 2011. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras